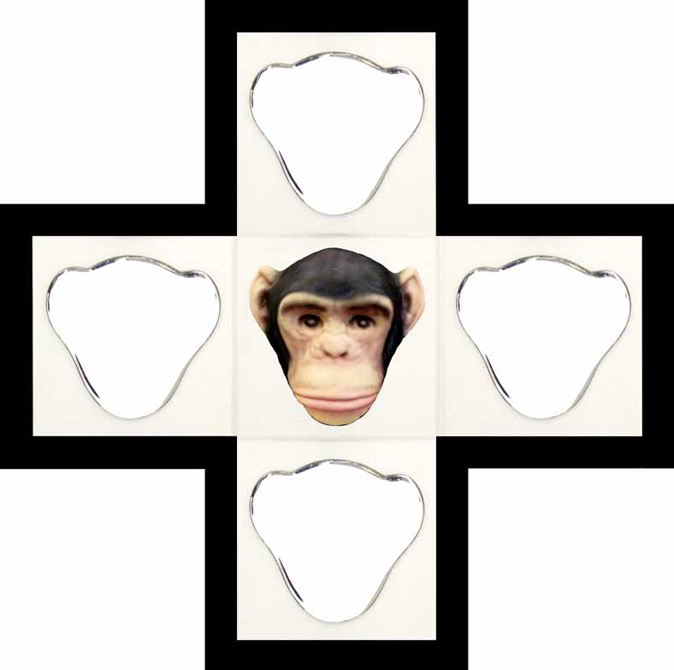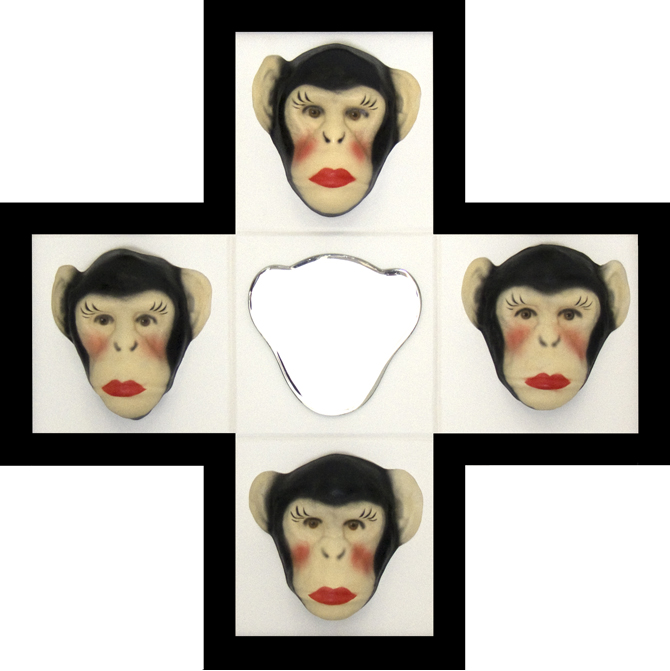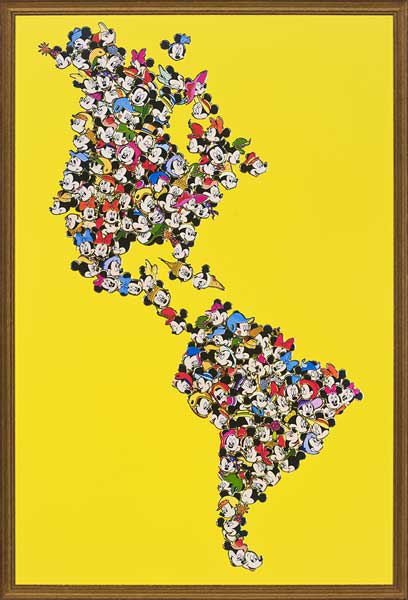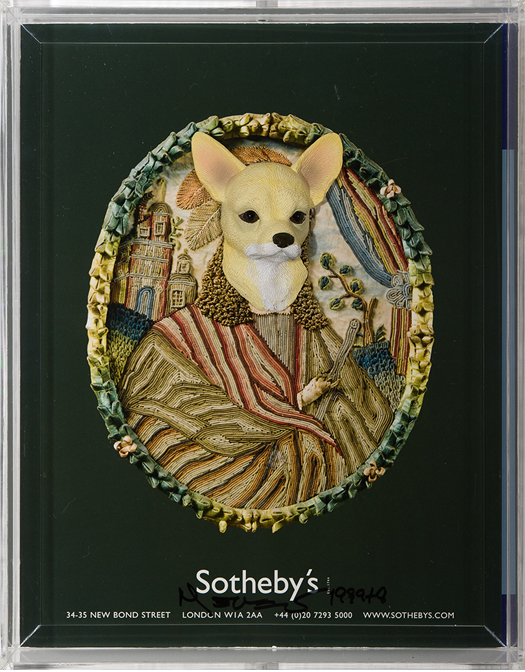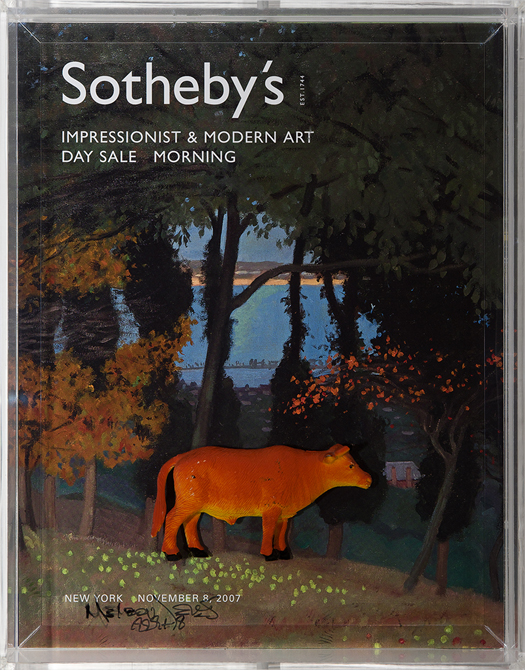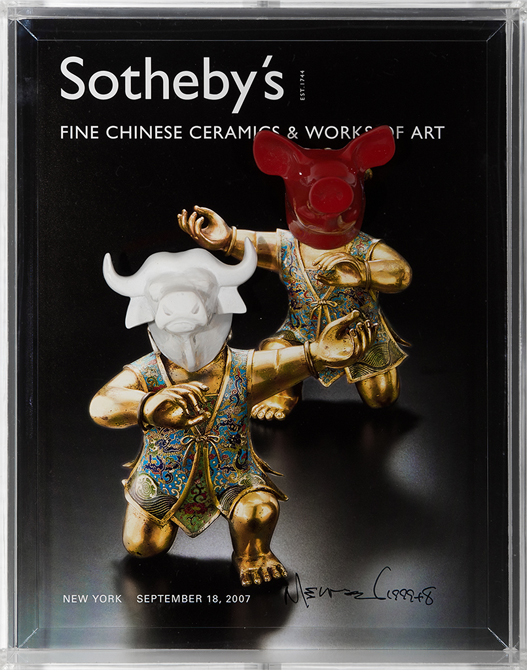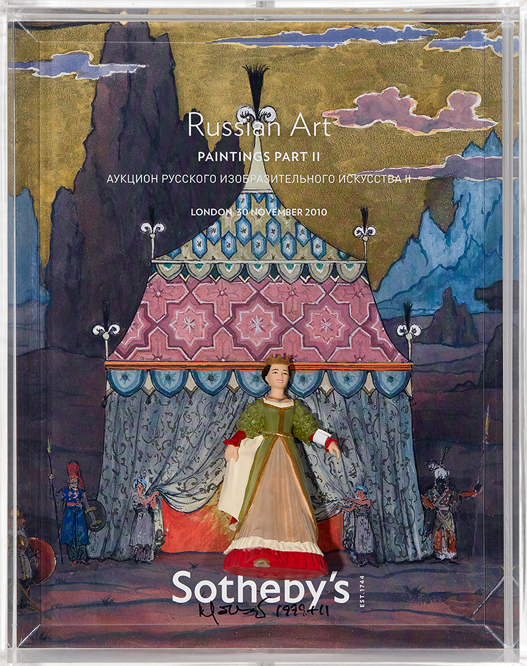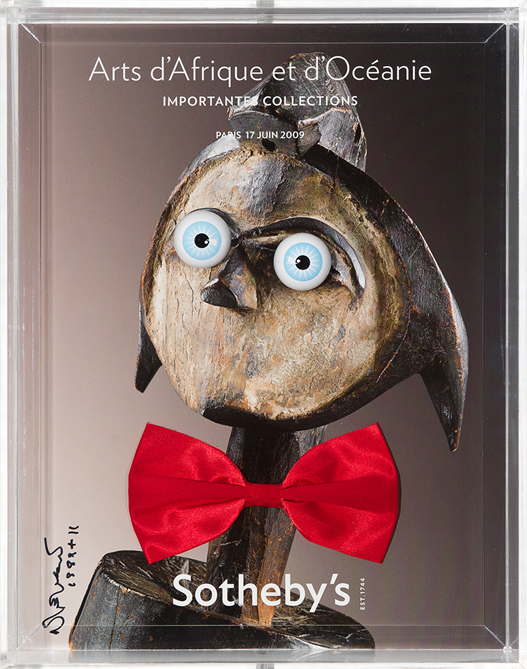Uma trajetória de mais de cinquenta anos, uma carreira singular, um papel relevante no circuito artístico brasileiro, faz de Nelson Leirner um dos artistas mais importantes do Brasil. Com o título God Blass, expõe várias de suas obras – técnica mista, objetos, fotografias, litogravuras -, trabalhos que no dizer do crítico Tadeu Chiarelli, “problematiza conceitos e verdades preestabelecidas tanto no campo da arte como fora dele, ampliando muito a possibilidade de debate sobre o estatuto da arte na sociedade contemporânea”.
Trajetória
Nelson Leirner nasceu em São Paulo em 1932. Artista intermídia. Reside nos Estados Unidos, entre 1947 e 1952, onde estuda engenharia têxtil no Lowell Technological Institute, em Massachusetts, mas não conclui o curso. De volta ao Brasil, estuda pintura com Joan Ponç em 1956. Frequenta por curto período o Atelier-Abstração, de Flexor, em 1958. Em 1966, funda o Grupo Rex, com Wesley Duke Lee, Geraldo de Barros, Carlos Fajardo, José Resende e Frederico Nasser. Ainda em 1966 recebe prêmio na Bienal de Tokio.
Em 1967, realiza a Exposição-Não-Exposição, happening de encerramento das atividades do grupo, em que oferece obras de sua autoria gratuitamente ao público. No mesmo ano, envia ao 4º Salão de Arte Moderna de Brasília um porco empalhado e questiona publicamente, pelo Jornal da Tarde, os critérios que levam o júri a aceitar a obra. Realiza seus primeiros múltiplos, com lona e zíper sobre chassi.
É também um dos pioneiros no uso do outdoor como suporte. Ganha o prêmio Itamaraty na Bienal de São Paulo. Por motivos políticos, fecha sua sala especial na 10ª Bienal Internacional de São Paulo de 1969, e recusa convite para outra, em 1971. Nos anos 1970, cria grandes alegorias da situação política contemporânea em séries de desenhos e gravuras. Em 1974, expõe a série A Rebelião dos Animais, com trabalhos que criticam duramente o regime militar, pela qual recebe da Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA o prêmio melhor proposta do ano.
Em 1975 a APCA concede ao artista o prêmio APCA melhor desenhista e encomenda-lhe um trabalho para entregar aos premiados, mas a Associação recusa-o por ser feito em xerox, por isso, como protesto, os artistas não comparecem ao evento. De 1977 a 1997, leciona na Fundação Armando Álvares Penteado – Faap, em São Paulo, onde tem grande relevância na formação de várias gerações de artistas. Em 1994 recebe o prêmio APCA de Melhor Exposição Retrospectiva do Ano. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1997, e coordena o curso básico da Escola de Artes Visuais do Parque Lage – EAV/Parque Lage, até o ano seguinte.
Em 1998 recebe o prêmio Johnny Walker de Arte Contemporânea. Em 1999 representa o Brasil na Bienal de Veneza o que lhe abre portas para uma carreira internacional tanto em galerias como em instituições, dando continuidade ao que já acontecia no Brasil. Participa das mais importantes feiras de arte no exterior, tais como: Arco, Basel, Miami Basel, Dubai e expõe na Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Estados Unidos. Em 2007 é reconhecido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) com o prêmio “Trajetória de um artista” e em 2009 recebe uma homenagem do Instituto Cultural Itaú como “Artista Referência“ com a exposição Ocupação. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.
Tadeu Chiarelli Texto publicado no livro “Nelson Leirner Arte e Não Arte”
Parafraseando Hélio Oiticica, que dizia fazer música, eu digo que aquilo que Nelson Leirner produz é orte. E é orte em dois sentidos aparentemente excludentes.
É orte, em primeiro lugar, porque o artista começa desestruturando o próprio termo “arte” apenas com a troca da primeira vogal pela quarta. Tal operação, à primeira vista banal, pode ser percebida como emblema de toda a obra de Leirner. O que ele tem feito no contexto da arte brasileira contemporânea nos últimos 40 anos é, justamente, produzir deslocamentos de certos conceitos que estruturam o circuito de arte em todos os seus segmentos.
Com pequenas mudanças (como essa troca do “a” pelo “o” na palavra arte), com sutis ou estrondosas operações de desgaste dos significados de imagens e /ou objetos dos quais se apropria para desenvolver seus trabalhos – e aqui serão entendidos como “trabalhos” todos os objetos, instalações, textos e documentos produzidos por Leirner -, ele destroi ou, pelo menos, problematiza conceitos e verdades pré-estabelecidas tanto no campo da arte como fora dele, ampliando muito a possibilidade do debate sobre o estatuto da arte na sociedade contemporânea.
Dentro dessa primeira perspectiva, portanto, teríamos Nelson Leirner como o ortista desestruturador. Mas ao lado, ou no mesmo espaço, desse Nelson conhecido e reconhecido como “radical” ou “anárquico” existe, e sempre existiu, o Nelson construtor, o Nelson que, ao problematizar certas “verdades” estabelecidas, procura justamente reorientar o curso do sistema de arte, buscando mudar-lhe o rumo.
Orte… ort: prefixo de origem grega (Orth(o)-) que designa correto, reto, exato , direito, esclarecido. Aqui está a segunda definição de ort (ou orte) na obra de Nelson, aparentemente contra aquela primeira: uma subverte, desorienta; a outra, coloca no eixo. Porém, a orte de Nelson subverte corrigindo ou corrige subvertendo porque o ortista possui, efetivamente, essas duas facetas. Ele é o demolidor e, ao mesmo tempo, aquele que instaura, que esclarece.
Realizada nos dias 29 e 30 de julho de 2002, na cidade do Rio de Janeiro, por Moacir dos Anjos, Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas com o título NELSON LEIRNER: O ENGENHEIRO QUE PERDEU SEU TEMPO.
Moacir dos Anjos – Nelson, em 2002 você completou 70 anos de vida e mais de 40 anos de atividade artística. Quando você olha pra trás e vislumbra sua já longa carreira, qual o seu maior motivo de satisfação?
Nelson Leirner – Eu acho que burlar. Sempre me deu muita satisfação burlar, não sei bem porquê. Eu realizei burlas que nunca contei para ninguém e que me deram muita satisfação. Por exemplo, quando eu ganhei o prêmio na Bienal de Tóquio com o trabalho Homenagem a Fontana, em 1967, eu recebi uma carta comunicando a premiação. Eu imediatamente liguei para a Folha de São Paulo e para O Estado de São Paulo com um nome inventado e disse para os responsáveis pela redação: “Estou falando aqui do Museu de Arte de São Paulo para avisar aos senhores que recebemos uma carta de Tóquio comunicando que o artista Nelson Leirner foi premiado na Bienal de Tóquio etc. etc.”. É claro que depois eles descobriram tudo e é claro que há nisso uma certa infantilidade de início de carreira, um desejo que todo artista tem de querer ser reconhecido. Mas, por outro lado, a burla foi eficaz, pois a notícia terminou sendo publicada com uma chamada de primeira página na Folha: “Artista brasileiro premiado em Tóquio”. E por que eu contei essa história agora? Para ter registrado, uma vez mais, que eu ganhei um prêmio na Bienal de Tóquio. O que fiz agora, então, foi uma metaburla.
Agnaldo Farias – Armou um estratagema para encaixar aqui o fato de que você foi premiado em Tóquio, o que é um fato importante.
NL – Que é importante e que vai sair publicado nessa entrevista. Hoje eu talvez seja apenas mais sutil do que naquela época. São essas coisas que me dão prazer.
AF – Deixe-me então falar de um outro prêmio que você recebeu. Em 1975, você foi escolhido, pela APCA [Associação Paulista dos Críticos de Arte], como melhor desenhista do ano. E cabia a você, como premiado, fazer um trabalho reproduzível que serviria de prêmio para todos os outros laureados. Você fez um trabalho em xerox, o que contrariou as expectativas dos dirigentes da APCA, que terminaram vetando o seu trabalho. Existiu aí também uma tentativa de burlar, de ferir expectativas?
NL – Nesse caso, não. Muitas vezes eu faço as coisas de forma proposital, mas em outras ocasiões a coisa é inconsciente ou fruto do acaso. Eu não achava que eles iam se negar a entregar aos outros laureados o prêmio que eu criei; não achava que eles iam me devolver o trabalho. Eu decidi fazer o trabalho em xerox, como poderia ter feito em offset, porque essa era a discussão do momento: a utilização dos então novos meios tecnológicos na arte contemporânea. Havia uma série de artistas – Julio Plaza, Regina Silveira, Carmela Gross, eu próprio – todos trabalhando dentro desse universo, que incluía o xerox, o Super 8, o vídeo. Hoje são tecnologias obsoletas, mas naquele momento não. Fiz um trabalho em xerox simplesmente por já estar trabalhando com essas técnicas. Interessava-me o meio em que eu ia fazer e mandar o trabalho. Não me interessava ser recusado. Ser recusado foi uma decorrência inesperada. Embora num outro contexto, surpresa semelhante aconteceu, por exemplo, em relação ao trabalho O Porco, ainda em 67. Eu simplesmente não podia saber, de antemão, se o júri iria aceitar ou recusar o trabalho, que foi enviado como qualquer outro para o Salão [de Arte Moderna de Brasília] com o desejo de ser aceito. Só vim a pensar em fazer a pergunta ao júri sobre os critérios de aceitação do trabalho depois que recebi a noticia da seleção. Foi aí que tive a ideia. Mas até enviar o trabalho foi tudo muito normal. Preenchi a ficha de inscrição e mandei o trabalho querendo que fosse aceito. Não mandei para ser recusado.
Adolfo Montejo Navas – Eu queria insistir nessa questão da burla, porque achei a palavra iluminadora em relação a sua obra. Parece-me que tanto o sarcasmo como a ironia que, embora sejam coisas distintas, existem em muitos de seus trabalhos, estariam relacionados a esse conceito de burla. Por um lado, a burla se destina obviamente às instituições de arte, aos sistemas de arte; mas, por outro lado, ela não teria também a ver com a necessidade de ironizar a própria arte, que tem ficado muito séria ultimamente?
NL – Eu vou lhe responder da seguinte forma. Uma das coisas que faço em minhas aulas é estabelecer os 10 mandamentos do artista. Um dos mandamentos é não ser honesto demais. Há artistas que querem ser tão honestos que terminam atrapalhando a sua própria obra. Os alunos ficam revoltados: “Como vou ser desonesto? Eu fui educado para ser honesto, para não roubar”. Mas eu não falo para você assassinar alguém. Eu falo só para você bater a carteira de quem pode ter a sua carteira batida. Não precisa bater a carteira de um miserável. Por exemplo, eu escrevi meio livro sem ter escrito, eu próprio, nada sobre mim. A orelha do livro eu peguei de um texto do Roland Barthes, a Camara Clara, em que ele fala sobre a vida dele. Todo mundo que fala sobre a sua própria vida fala um pouco também da vida de todo mundo. Então eu peguei o texto e comecei a riscar as coisas que não se encaixavam na minha biografia. Coisas que estavam “erradas” para serem parte da minha biografia e que fui “corrigindo”. Depois, lendo o texto, era a minha biografia, já pronta. Era a orelha do meu livro. O livro chamava-se Nelson Leirner por Nelson Leirner. Depois, vi que o [artista americano] Sol LeWitt tinha feito uma autobiografia toda baseada em fotos. Fotos de livros, da rua em que ele morava, garfos e facas com os quais ele comia, coisas do cotidiano dele. Era a autobiografia dele. Só que, em quase todas aquelas fotos, alguma coisa se encaixava na minha vida. Alguns livros se encaixavam na minha vida. Os nomes de rua não se encaixavam, então eu jogava fora. Os garfos e as facas se encaixavam, uma cadeira se encaixava. Então eu fiz, em cima da autobiografia dele, os cortes necessários e montei a minha autobiografia. Utilizando esse método, fui pegando outros textos, editando e fazendo a minha autobiografia. Contei isso em aula e perguntei para os alunos se havia sido desonesto. Claro que há uma desonestidade nisto, pois eu estou me apropriando do trabalho do outro. Mas daí começo, na aula, a falar, evidentemente, de Marcel Duchamp. Será que Duchamp também não foi desonesto ao se apropriar de objetos feitos por outras pessoas?
MA – Nelson, você acabou de citar o nome de Marcel Duchamp. Existe na sua obra um embate evidente com a obra de Duchamp, principalmente no que se refere ao seu caráter dessacralizador, à sua potência em deixar à mostra os mecanismos de construção das convenções que regem o mundo das artes. Gostaria de saber quando se deu e como foi a sua recepção da obra de Duchamp.
NL – Você quer a verdade ou a mentira?
AF – A verdade.
MA – E depois a mentira.
NL – A verdade você nunca sabe. Você mesmo não sabe se você está falando a verdade ou não. Duchamp apareceu na minha vida em função das aulas. Meu trabalho dos anos 60 não tinha nenhuma relação com a história da arte no sentido de um conhecimento aprofundado de Duchamp ou de quem quer que seja. Somente descobri Duchamp depois que me tornei professor de arte, nos anos 70. Mas foram os outros que primeiro perceberam as relações de meu trabalho com o de Duchamp, não fui eu que percebi. Claro que uma vez que as pessoas chamaram a atenção para isso fui investigar com mais interesse a obra de Duchamp. Mas não passei a explorar isso no meu trabalho. Apenas vi que fazia parte do meu universo e continuei.
AF – E quando passou a lhe interessar o trabalho do [artista alemão Joseph] Beuys?
NL – Um pouco mais tarde, quando eu comecei a ver trabalhos de alunos que não se caracterizavam por serem objetos, mas por enfatizarem a vivência com os materiais. Eu tinha que achar alguma referência para discutir com eles, porque não havia mais uma referência objetual nos trabalhos, mas somente referências vivenciais. Então, foi no momento em que eu senti que minhas referências não eram suficientes para discutir os trabalhos de alguns alunos que eu aumentei o meu interesse pela obra do Beuys e, antes disso até, pela obra da [artista americana] Eva Hesse.
AMN – Eu gostaria que você falasse dos objetos que você chama de Xeque-Mate, que são muito presentes em seus trabalhos nos últimos anos.
NL – O Xeque-Mate apareceu por volta de 1986, quando eu já tinha feito o Grande Desfile no MAM [Museu de Arte Moderna] do Rio. Sheila [Leirner], minha sobrinha, foi para Campos do Jordão e me trouxe de presente um objeto popular feito de argila – um galinho trepando com uma galinha – porque achava que estava relacionado ao meu trabalho. Quando ela me deu o presente, fiquei pensando o que poderia fazer com esse galo e com essa galinha trepando. Então pensei: uma trepada é o xeque-mate, o fim do jogo. E o xeque-mate é um final nobre. É o fim de um reinado, é o rei deposto. Você trepa, goza, o jogo acaba. Como mostrar isso? Pegando um tabuleiro e colocando o objeto em cima. E eu tinha uma relação com o xadrez, gostava do jogo. Na década de 50 cheguei a participar de um campeonato promovido pelo jornal Gazeta Esportiva. Era um campeonato em que se inscreviam 10 mil pessoas e fui eliminado na primeira rodada. Aí é claro que vem Duchamp na cabeça de vocês todos, que largou tudo para jogar xadrez. Mas não precisa pensar em Duchamp para isso. Xeque-mate é o ato final do jogo. É um terceiro objeto criado a partir do encontro de dois outros objetos. Eu nunca tinha pensado no Duchamp em relação ao xeque-mate. Mas você está numa armadilha; como é que você sai dessa armadilha?
AMN – Acho que existe uma herança Duchampiana na arte contemporânea que é pesada, imobilizadora. Há um legado da arte conceitual, por exemplo, que, em certa medida, é preconceituosa em relação à arte objetual. E é interessante que a posição que você mantém com a herança Duchampiana seja diferente. O seu trabalho não é tão ascético ou neutro como o de boa parte dos artistas que assumem esse legado. Gostaria que você se posicionasse sobre isso.
NL – Existem graus de parentesco entre trabalhos artísticos. Você pode estabelecer um grau de parentesco entre um trabalho meu e a obra de Duchamp. Você também pode estabelecer um grau de parentesco entre um trabalho meu e o de outros artistas. Às vezes eu sou irmão, às vezes sou filho, às vezes sou sobrinho, ou primo de quarto, oitavo, sexto grau, ou mesmo tio-avô de outros artistas. Você pode estabelecer parentescos muito longínquos e parentescos muito próximos. E por que você pode fazer isso tudo? Porque arte não é baile de carnaval, onde tem prêmio de originalidade. Não adianta você querer ser original. Arte fala sobre arte. Então você tem que ter parentescos, não pode escapar disso, de fazer parte de uma árvore genealógica. Agora é claro que alguns artistas são os patriarcas dessas árvores, como Duchamp ou Beuys. [Andy] Warhol não é um patriarca, mas tem a inteligência para ser um primo de primeiro grau desses outros. Em relação à influência do Duchamp, o que eu acho é que o jovem artista hoje não conhece Duchamp suficientemente. Esse é que é o problema. O jovem artista está mais influenciado pelo lado filosófico, conceitual da arte, do que pelo lado da prática artística do Duchamp. Não conseguem enxergar o trabalho do Duchamp.
AMN – Não aconteceria isso também com o legado de outros artistas, além de Duchamp? Não aconteceria de muitos artistas estarem pensando apenas nos discursos teóricos elaborados pelos artistas ao invés de estarem pensando na potência das próprias obras que eles produziram?
NL – Acho que quem tem uma obra segue o seu caminho e incorpora seus parentescos naturalmente. Eu estou fazendo um trabalho pensando no Sol LeWitt, me referenciando explicitamente à obra do Sol LeWitt. E Sol LeWitt pensou em quem, deixou-se influenciar por quem? Mondrian, possivelmente. E ainda assim esse meu trabalho é Duchampiano. E por que não? Como é que isso fica na cabeça de vocês? Como é que Duchamp entra no meu trabalho via Sol LeWitt?
AMN – Por meio de um golpe de sinuca fantástico.
NL – Fantástico ou não, alguém tem que enfrentar esse golpe de sinuca.
AF – Mas esse é justamente o papel da crítica, porque, afinal, o critico é um observador mais apaixonado do que a média do público pela produção da arte e que, portanto, acompanha essa produção com mais atenção. Claro que elucidar essas relações do trabalho de um artista com o de outros artistas exige recursos de mim, como crítico, que, se eu não os tiver, não vou poder perceber o diálogo que o trabalho está estabelecendo. Eu acho que quando você vê o trabalho de alguém, carece ver o trabalho dentro de um contexto mais amplo para perceber exatamente onde o trabalho entra.
NL – Mas será que, com isso, hoje eu não estou checando vocês? Até um determinado momento eu me interessava em checar uma sociedade que eu supunha não ter conhecimento específico de arte e me dava por satisfeito com isso. Quando vi que essa sociedade realmente não conseguia apreender nada do meu trabalho, eu não consegui mais me dar por satisfeito. Na verdade, percebi que não estava checando nada. E aí, passo a checar quem? Quem supostamente conhece. Hoje eu faço meu trabalho para checar vocês. É claro que eu quero que a faxineira do museu onde o meu trabalho está exposto se identifique com todos os seus elementos, ainda que ela não tenha a mínima ideia das relações que os críticos podem estabelecer a partir dele. Mas também tenho a clareza de que o principal interlocutor de meu trabalho não é mais esse público genérico, leigo. A tendência é que esse público se afaste e que fique somente a obra e o interlocutor que vai dar o sentido a ela. É o que vocês críticos escrevem e dizem que define o sentido da obra, não o artista.
AF – Como não é o artista? É o artista quem dá a base para toda a conversa. Se você não produz, não tem conversa.
NL – Tudo bem. Mas se eu produzo e você não escreve, o meu trabalho acabou também.
AF – Então estamos juntos.
NL – Estamos juntos, embora em duas posições diferentes. De um lado, fico eu warholando. Warholar é fazer despreocupadamente, sem ter responsabilidade alguma sobre os resultados. Warhol não encarava cada trabalho que ele fazia como um drama para ele. Ele apenas fazia. Ele começava algo e simplesmente continuava até se encher do próprio trabalho. Ele ficava warholando, sem nenhum tipo de responsabilidade. Eu também vou fazendo meu trabalho, na maior parte do tempo, sem nenhuma intenção. Do outro lado estão vocês, os curadores, os críticos. Hoje vocês são os que trabalham. Vocês têm a responsabilidade do trabalho. Reparem como vocês trabalham… Reparem como vocês não brincam… É o nosso castigo. Nós hoje podemos brincar e vocês não podem.
AF – Porque o crítico tem que explicar tudo, tem que situar, contextualizar.
NL – E ser responsável pelo que escreve e ter uma consciência atrás. Eu não preciso mais ter essa preocupação. Eu sou o “paciente”. Eu não tenho o que errar. Agora vocês, como “médicos”, não podem errar. Vocês matam o paciente. Não existe mais a palavra erro para mim. Eu passei isso tudo para vocês, é a minha herança. Vocês estão com essa herança hoje. Olhem o que acontece aqui: três pessoas, uma do Rio de Janeiro, uma de São Paulo e outra do Recife indo atrás de uma verdade minha e eu dizendo o que eu quero. Olhem o quanto eu posso me divertir e olhem o quão pouco vocês podem se divertir nessa situação. Eu sou o único que posso me divertir. Vocês não podem. Vocês são médicos.
AF – E o curador é o que?
NL – É a mesma coisa, porque a ele cabe a escolha. A ele cabe dar o significado do trabalho do artista. Eu não tenho mais que pensar que significado vai ser dado ao meu trabalho. O que vão fazer ou não dele. O curador tem uma responsabilidade de mudar rumos. Eu não tenho. O curador é responsável por fabricar o artista. Eu não posso fabricar o artista. O curador pode. O curador, na verdade, é o patrão do artista. Afirmo isso com uma clareza absoluta. E quando digo que o curador é o patrão do artista eu ainda estou sendo, de uma certa forma, delicado com os curadores. Pensando hierarquicamente, o curador é apenas o capataz da instituição para a qual ele trabalha. É ele quem descobre o artista para a instituição.
AF – Acho que não dá para generalizar, porque há posturas que são diferentes. O curador pode escolher o trabalho de um artista para dar visibilidade a ele honestamente.
NL – Não, não. Eu não falei que tem capataz desonesto.
AF – Mas têm desonestos, por isso que estou falando.
NL – Assim como tem artistas desonestos.
AF – O que gostaria era de insistir em um ponto: é você, como artista, que está criando uma obra, e sem a obra não existe função para o curador.
NL – Mas eu não fabrico o artista. Então a responsabilidade é toda do curador.
AMN – Mas a obra tem uma reserva irredutível e, nesse sentido, mesmo que muitos curadores façam leituras e interpretações interessantes, examinando vários caminhos possíveis, a obra normalmente fica esperando, fica na sombra. A obra sempre está segura.
MA – Parece-me que o que você está explicitando, Nelson, é algo que aparece várias vezes no seu trabalho: que a obra só existe nesse embate com os outros interlocutores. Ela pode até ser reservatório de sentidos, mas ela só se transforma em algo que existe socialmente nesse embate com a crítica ou com os curadores.
NL – Essa situação curador/artista, crítico/artista é uma situação Duchampiana. Reparem bem como vocês estão tão ligados ao Duchamp quanto o artista está. Quem chamou atenção para a necessidade do discurso “de fora” para complementar a obra? Foi Duchamp. Então, vocês são tão primos dele quanto eu. E não é uma questão de idolatrar Duchamp. Apenas foi ele quem primeiro disse que a obra só existe quando há um interlocutor. São palavras dele. Nunca vi alguém falar isso antes. No fundo, o curador é apenas um crítico com mais poderes institucionais.
AF – Na verdade, creio que se exige menos do curador. É muito mais fácil ser curador do que ser crítico, em que pese a maior responsabilidade e o poder do curador. A crítica exige, necessariamente, uma elaboração teórica para fundamentar as argumentações, enquanto certas pessoas que exibem a etiqueta de curadores se eximem dessa tarefa. O que é uma contradição, já que exercem uma atividade que é como um desdobramento da atividade do crítico.
NL – Então eu poderia dizer que há o crítico, o crítico–curador e o curador. Quando Moacir [dos Anjos] diz que, em função de um trabalho meu, vai pôr o título Adoração na exposição que ele organizou sobre minha obra e que, ao mesmo tempo, vai mostrar o trabalho Futebol, então está claro que vai haver trabalhos na exposição que não têm absolutamente nada a ver com religião, ao contrário do que o nome da exposição isoladamente poderia sugerir. Aí ele tem que fazer uma transposição crítica, ser um crítico-curador. Numa bienal em que elegem a Metrópole como tema [25ª Bienal de São Paulo] e onde você vê vários trabalhos que falam da metrópole sem se referir apenas a prédios e a pobreza, fica também evidente a importância do papel do crítico-curador. Agora, se, por outro lado, um curador diz que o tema é Metrópole e escolhe só maquetes de edifícios, quem pode dizer que ele está errado? É legítimo julgar o tema Metrópole literariamente. Eu acho que o curador pode fazer isso sem correr nenhum risco. Já o crítico-curador não julga literariamente. Ele vai encontrar, na obra do artista, o fio condutor que vai articulá-la com vários temas. Aí entra a inteligência, a perspicácia e também a malandragem.
AF – Eu acho que um dos grandes problemas relacionados a essa questão é que o curador tem assumido um papel de intermediário que termina aparecendo, muitas vezes, como de importância maior que o próprio trabalho artístico. Isso é uma distorção. O artista é sempre mais importante. Esse é o meu ponto de vista. O artista é o ponto de partida do debate, é ele quem produz a matéria-prima. Existem curadores que submetem trabalhos de artistas a teses mal costuradas, reduzindo a complexidade do trabalho. Selecionam aquilo que interessa a ele e não estão necessariamente interessados na potencialização do trabalho. Desfavorecem o artista em vários aspectos, seja comentando erros triviais na montagem de seu trabalho ou expondo-o numa situação de proximidade com outros artistas que lhe é totalmente desfavorável.
NL – Então o que seria mais perigoso: um mau curador ou um mau artista? Quem pode causar mais dano? Um mau curador causa dano a uma coletividade inteira, enquanto um mau artista, não. Além disso, o artista não tem, na maior parte das vezes, como colocar as suas próprias ideias em relação ao seu trabalho, porque vem o curador e muda tudo.
MA – Por outro lado, acho que às vezes há a demonização do papel do curador, como se todos os males do circuito artístico fossem causados por ele. Sinto que existe um grande ressentimento dos artistas em relação aos curadores, o que muitas vezes se explica justamente pelo poder que o curador supostamente detém e do qual os artistas não usufruem, não se beneficiam de alguma forma.
NL – Como se sente um artista que tem provas irrefutáveis de que teve uma participação importante em um determinado momento da produção artística e que, quando acontece uma grande exposição histórica, feita para um grande público, ele é excluído?
MA – Bastante indignado, certamente.
NL – Então, qual o critério de inclusão ou exclusão numa exposição? Aí nós vamos chegar a posições pessoais. A única coisa que o artista pode dizer é que o curador que fez a exposição é um inimigo. Que outra palavra você tem para usar? Ele não me pôs na exposição simplesmente porque ele não gosta de mim. E isso é um critério adotado hoje. Por que não existe um critério de pontos para escolher artistas para uma exposição?
MA – Eu acho que a resposta para essa pergunta está lá no “happening da crítica”, quando você indagou aos membros do júri do Salão de Brasília porque eles haviam aceitado um porco empalhado no Salão. Foi da disputa entre as opiniões dos vários membros do júri que se decidiu que aquele porco era um objeto artístico.
NL – Só que uns concordavam que ele devia entrar e outros não. O interessante do Porco, no fundo, não foi só a polêmica que causou, foi a split decision do júri. Só que quando esse tipo de decisão ocorre no esporte, sempre é dado o direito de revanche ao perdedor. Numa decisão não unânime, a revanche tem que ser dada. Que revanche o artista tem numa split decision contra ele? Vocês dão revanche? O Porco entrou porque dois membros do júri votaram contra e três a favor dele no Salão. Os cinco membros deveriam ter, supostamente, a mesma capacidade de avaliação.
AF – Mas cada um tem critérios diversos.
NL – Só o artista não pode jogar com os critérios diversos porque ele só tem um trabalho. Todos os curadores dos júris, os membros de comissões, estão sempre jogando com isso: “temos critérios diversos”. Vocês sempre têm uma justificativa e o artista não tem justificativa nenhuma. Nós sempre ficamos no banco dos réus. Hoje nós somos réus. Eu sou um réu sentado esperando ser absolvido.
AF – Mas a obra de arte, Nelson, está sempre no banco dos réus, porque ela está sempre sendo julgada. Julgada inclusive por outros artistas e até pelo próprio artista que a criou.
NL – Mas existem julgamentos primários e existem julgamentos que chegam até a suprema corte. Vocês são a suprema corte. É isso que tem que ficar claro. Depois das palavras dos julgadores, dos curadores, não tem apelação.
MA – Por outro lado, existem várias cortes de curadores. Mesmo que em cada uma delas o artista não tenha o direito de apelação, ele pode sempre apelar para uma outra corte de curadores.
NL – Ele pode ser absolvido numa outra. Tudo bem. Mas na corte em que ele foi julgado não existe o termo apelação.
AMN – Eu acredito que esse tipo de julgamento tenda, de alguma forma, a mudar em relativamente pouco tempo. Já existe, por parte de muitos artistas, a convicção de que não se pode manter os curadores e os críticos como se fossem um estamento de mandarins, como aqueles que detêm a palavra final sobre o julgamento do valor artístico.
NL – Mas então esse mérito eu quero ter, porque faz quarenta anos que eu venho apontando isso e mantendo a coerência do meu discurso. Não é inimizade e nem raiva, é uma questão de assumir uma posição. O poder pode ter mudado de nome, mas é o mesmo poder que sempre excluiu os artistas das decisões. Muitos artistas estão começando a enxergar isso agora porque hoje eles se sentem prejudicados. Eu já briguei com esse poder por um ideal e não por me sentir pessoalmente prejudicado.
MA – Eu vou aproveitar essa discussão para me referir a alguns trabalhos seus, Nelson. Você falou que a obra só pode existir na relação com o interlocutor e me parece que, na sua carreira, há vários momentos em que você buscou no público esse interlocutor. Seja na Exposição Não-Exposição, nas Bandeiras na Praça, na instalação dos Plásticos ou na mostra Playground. Com exceção de Playground [Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1969], os outros trabalhos que eu citei foram, de alguma forma, fracassos diante da expectativa que você tinha da interação com o público. Mas a impressão que eu tenho é que esses supostos fracassos foram reprocessados na sua obra e eles hoje me parecem ser trabalhos cruciais. Não pelo fato de terem fracassado, mas por terem, desde o início, apontado para essa busca do embate, para a constituição dos trabalhos junto ao outro, seja o público em geral ou, mais recentemente, a crítica e os curadores.
NL – Onde você vê fracasso eu substituiria por uma discrepância entre o que aconteceu e as expectativas que eu tinha em relação aos trabalhos. Porque se eu soubesse o que iria acontecer, eu teria certamente feito esses trabalhos de outra forma. Nunca poderia prever, por exemplo, que a bandeira do Corinthians amarrada a balões que eu soltei no Estádio do Morumbi [São Paulo], como uma homenagem ao Corinthians, fosse cair no Rio de Janeiro. Se eu soubesse onde a bandeira ia cair, eu teria colocado uma banda de música no local e chamado toda a imprensa. Do mesmo jeito que eu nunca iria imaginar que a Exposição Não-Exposição fosse fechar a rua por causa da quantidade de pessoas que queriam o meu trabalho. E em poucos instantes terminou a exposição, com a galeria inteiramente limpa.
AF – Em relação a esse episódio, como é que pode uma exposição de arte contemporânea, nos anos 60, com trabalhos tão insólitos e diante de um público de uma cidade então tão ignorante dos rumos da arte contemporânea, reagir daquele modo? Foi uma divulgação bem feita? O que aconteceu?
NL – É preciso analisar o comportamento do público naquela época. Na verdade, não acho que eles foram atrás propriamente do meu trabalho. Eles foram atrás de um brinde. É muito diferente. O público pensava assim: “Se estão dando de graça, vamos pegar, não importa o quê”. Eles não sabiam nem o que estava lá dentro. Tanto que três anos depois a coisa se repete na FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo] com o trabalho dos Plásticos. A idéia era fazer com que os alunos e funcionários amarrassem o prédio com aquele plástico todo que eu havia colocado lá ou que fizessem enormes bexigas infláveis, obrigando todo mundo a sair do prédio. Seria o anti-Christo. [O artista búlgaro] Christo amarrava os prédios e não deixava ninguém entrar neles com seus trabalhos; eu queria obrigar todo mundo a sair. Mas parece que o material que usei era muito atraente. Todo mundo embrulhava o quanto podia do plástico e saia correndo. Roubaram cinco mil metros de plástico em cerca de uma hora. A apropriação dos plásticos pelos alunos e funcionários da universidade se deu muito mais como uma apropriação privada do material que eu usei para fazer o trabalho do que como uma atitude artística.
AMN – Na verdade, eu tenho a impressão de que o público está cada vez mais distante da arte contemporânea, talvez por achar as obras muito complicadas ou talvez pelo fato das obras exigirem que se gaste um tempo relativamente longo junto a elas para serem efetivamente apreciadas.
NL – Mas quem será que está mais distante da arte contemporânea: o público que vai ver as exposições ou o próprio artista? Talvez o artista hoje esteja muito mais distante da arte do que o público. Acho que o artista tem pouca curiosidade sobre o que os outros artistas estão fazendo. Agora, é lógico que, quando falo de público, estou falando de um público interessado. Vocês, por exemplo, são um público profissional, porque vocês são obrigados a ver e, inclusive, a falar sobre arte. Eu não tenho obrigação nem de ver nem de falar. Eu sou artista.
MA – Ainda em relação à recepção das suas obras, o trabalho que você apresentou na 25ª Bienal de São Paulo [2002] parece ter causado uma certa surpresa nas pessoas que o viram por seu caráter supostamente ordenado, quase ascético. A alguns observadores passou despercebida até a relação forte do jogo do ping-pong com o tema do esporte, recorrente na sua obra. Como é que você avalia a recepção crítica ao seu trabalho ao longo dos anos? Você se sente surpreso ou eventualmente frustrado?
NL – Se alguém fizesse um estudo da minha obra, revendo todo o meu trabalho, iria ver a ligação direta desse trabalho da Bienal com certas coisas que trabalhei anteriormente. O jogo, por exemplo, sempre esteve presente. E olhando para trabalhos passados, como o Esporte é Cultura, veria ligações com esse novo trabalho. Então não vejo nenhum motivo para quem conhece o meu trabalho ficar surpreso. Em relação à crítica, eu aprendi uma coisa. Você nunca satisfaz a crítica integralmente. Críticas sempre foram e continuam sendo facções. Muitos veem no seu trabalho uma importância que outros não enxergam. Isso depende muito da própria formação do crítico. Tem críticos e curadores que lhe valorizam e tem outros que nunca vão chegar perto de você.
AF – Nelson, você foi um artista que, nos anos 60 e início dos 70, participou de grupos: fez duplas com Geraldo de Barros, com Wesley Duke Lee e formou o grupo da Rex Gallery. Posteriormente, você teve uma relação de trabalho próxima com Julio Plaza, com Carmela Gross e com Regina Silveira. Já no final dos anos 70, quando você começa a dar aulas na FAAP [Faculdade Armando Álvares Penteado], a sensação é que você se distancia desse grupo e que a sua relação passa a se dar mais com estudantes, uma relação de mestre com o aluno, que continua mesmo agora em que você se distanciou da faculdade mas continua dando cursos livres. Como é que fica a sua relação com os colegas? Quem são os seus interlocutores ao longo da sua trajetória?
NL – As coisas mudaram muito. A arte, em geral, desenvolveu uma outra característica a partir dos anos 90. Para mim, mudou totalmente. Você não tem mais interlocutores da maneira como você tinha antes, quando as pessoas se agregavam, formavam grupos, discutiam. Você não tem mais o pensamento político que dava um sentido coletivo ao seu trabalho. De alguma forma, a política juntava os trabalhos das pessoas. Enquanto havia uma distinção clara entre esquerda e direita, você necessariamente estava em um desses campos. E quando você faz parte de um grupo, você tem mais ou menos a mesma linguagem, até por proximidade. Lógico que as mudanças políticas e a democratização ajudaram a dispersar essa unidade. Além disso, o recente processo de regionalização da arte também muda a estrutura dessa questão de agrupamento de artistas. Há uma maior dispersão regional de artistas pelo país e, consequentemente, uma menor aglutinação de artistas em torno dos artistas que vivem no Rio e em São Paulo.
AF – Concordo plenamente que isso esteja acontecendo, mas essas mudanças poderiam, eventualmente, não excluir a possibilidade de, mesmo estando em São Paulo ou no Rio, você continuar mantendo o contato com os artistas do seu núcleo original. Quando você foi premiado na Bienal de Tóquio, por exemplo, você recebeu um telegrama assinado por Hélio Oiticica, Rubens Gerchman e outros artistas cariocas cumprimentando você, um artista de São Paulo, pela premiação. Lendo esse telegrama, a sensação que passa é a de que você era parte de um grupo maior.
NL – Quando eu reproduzi esse telegrama no catálogo de uma exposição que fiz no Rio [Nelson Leirner, uma viagem. Centro Cultural Light, 1997] estava, de certo modo, também fazendo uma burla. Apesar de eu achar aquele telegrama maravilhoso e de ter sido importantíssimo para mim. Na verdade, tudo o que não tem testemunha eu posso inventar. Eu posso ser amigo de todo mundo que é importante. A grande amizade com Hélio Oiticica, por exemplo, que nunca tive, mas que nunca ninguém vai saber ao certo. Porque eu invento histórias incríveis. Eu vi pessoas falarem coisas sobre o Hélio Oiticica como se tivessem tido uma relação de irmão com ele, quando se sabe que mal se encontraram. Quando acaba o testemunho, se inventa. Por isso posso dizer, por exemplo, como lamento que tenha queimado o filme de minha máquina e que eu não tenha a foto que fiz de meu encontro com Duchamp, em 53, em Nova Iorque. Queimou, quem é que vai duvidar? Eu estava lá. Tenho a prova do passaporte. Duchamp estava lá na mesma época. Quem vai dizer que eu não encontrei Duchamp e tive uma longa conversa com ele? Eu posso inventar isso aqui, é mais uma burla. Quanto aos artistas com quem mais convivi nos anos 60 e 70, é natural que tenha havido um distanciamento, porque não era uma relação somente de trabalho, era também vivencial. Geraldo de Barros foi meu amigo em tudo, íamos a futebol juntos. Com o Wesley [Duke Lee], formei o grupo da Rex Gallery, o que quer dizer que estávamos sempre juntos no nosso trabalho e em muitas festas. Tínhamos uma vida social muito intensa. Hoje, em função talvez da minha idade, mudou esse tipo de relação. Como todo mundo, o artista vive cada época da sua vida de acordo com o seu estado mental e físico. Passa a época das irresponsabilidades, a época das separações e chega a época de repensar a vida. Acaba o “baile” e você passa a se relacionar com as pessoas de uma outra forma. Ao invés de ir a festas, você passa a receber as pessoas com um jantar bem cuidado, com pratos que sempre se repetem.
MA – Você formou, como professor, pelo menos duas gerações de artistas brasileiros, inicialmente em São Paulo e, mais recentemente, no Rio de Janeiro. Você continua acompanhando a jovem produção brasileira? Há alguma coisa nessa produção que particularmente o atraia ou o irrite?
NL – Eu até hoje mantenho contato com alguns alunos que tive, assim como com jovens artistas que eventualmente me procuram para mostrar e discutir seus projetos. O que noto como uma certa tendência dessa produção jovem é o caráter mirabolante de boa parte dos projetos que me mandam. Atualmente eu sou partidário de dizer as coisas com o mínimo de esforço possível. Eu acho que o grande erro da arte feita hoje é o esforço faraônico que o artista faz para dizer alguma coisa que poderia ser dita apenas como um conceito ou pelo menos mostrada de uma maneira mais concisa. Muitas vezes constroem algo que é só um ornamento para um conceito. É esse ornamento que eu acho que eles têm que eliminar, deixando apenas o conceito. O ornamento só se sustenta se ele é também o conceito.
AF – O que você acha que leva os jovens artistas a essa grandiosidade, a essa eloquência?
NL – O desejo de ser convidado e participar das megaexposições, que é o grande sonho da maioria deles. Se o artista tem um mega-espaço à sua disposição, ele tem que construir, obviamente, um mega-trabalho. Nesse sentido, uma bienal é um péssimo exemplo para o aluno. Ela acaba sendo um péssimo exemplo porque tudo nela é grandioso e, necessariamente, feito em série. Não dá para mostrar um desenho e, junto dele, apresentar uma outra coisa completamente diferente. Ou você faz duas dúzias de desenhos ou você não pode estar lá. Alunos vieram me falar da instalação de Paul McCarthy na Bienal de Veneza, que tinha uns quinhentos metros de lixo. Quinhentos metros de detritos é muito detrito, é coisa que você só vê nessas lojas enormes de material jogado fora ou em um ferro velho. Pegar um ferro velho inteiro e levar para dentro da Bienal cria um sentido pela acumulação. Agora, pegar uma chave de fenda, um martelo e um alicate e colocar lá dentro não cria sentido nenhum. Então, eles acham que é através desse exagero na ocupação do espaço que eles vão poder atingir alguma coisa na arte.
AF – De um modo geral, o jovem artista está sempre muito atento à direção para onde sopra o vento. Qual é a direção do vento hoje?
NL – Além da tendência à grandiosidade, percebo um grande interesse pela fotografia. Quase todos os meus alunos que pintavam, por exemplo, estão hoje fotografando. Outro dia chamei um grupo de alunos que tem aulas comigo e falei para eles: “Tá na hora de não ter mais aula comigo, porque tudo que eu critico e vocês mandam para os salões ignorando a minha critica é premiado”. E por que isso ocorre? Porque eu sinto muita dificuldade em fazer uma análise sobre trabalhos de vídeo ou fotografia, por exemplo, que são meios muito utilizados hoje e sobre os quais eu não tenho domínio suficiente para ter convicção de dizer se um trabalho é bom ou não. Não sou capaz de falar com convicção de fotografia como sou capaz de falar de uma instalação ou de um objeto. Além disso, o aluno hoje tem, em geral, um conhecimento teórico muito maior do que o meu. Alunos me trazem trabalhos baseados em conceitos de [Gilles] Deleuze. Outros baseados em [Theodor] Adorno. Eu não sei quem é Adorno, e aqui não estou burlando. Eu não sei quem é Deleuze, nunca li nada dele. Ou comecei a ler e não aguentei. Eu devia ter feito essas leituras há muitos anos atrás e não fiz. Hoje, realmente, eu não tenho paciência. Por isso que eu digo que toda a “desonestidade” do meu trabalho se deve ao fato de eu ter grande conhecimento visual da arte. Isso eu tenho. Muitos de meus alunos estão fazendo a sua arte em cima de um aprendizado acadêmico. O problema é que esse maior conhecimento teórico nem sempre reverte positivamente para o trabalho.
MA – E o que você acha dos textos críticos que são hoje escritos em catálogos e livros sobre o trabalho do artista jovem?
NL – Acho que os críticos estão escrevendo cada vez menos sobre o artista e escrevendo apenas sobre a obra, como se fossem coisas dissociadas. Parece-me que, quando vocês escrevem sobre o que se produz hoje, esquecem de contextualizar o artista na história.
AF – É claro que toda obra tem uma inscrição dentro da história e você pode se referir a isso quando escreve um texto. Você pode falar de alguns aspectos que são mais tangíveis, que são decorrências, citações, e você pode também, a partir daí, fazer uma leitura da obra. O importante é que haja fundamentação no que você escreve. Que uma pessoa leia o texto sobre um determinado trabalho e diga: “Isso faz sentido”. A questão é que hoje as possibilidades de criação são tantas, os critérios são tão abertos, que existem menos parâmetros até para analisar a produção. Há uma espécie de vale-tudo que, contudo, é também muito fértil do ponto de vista da criação, pois promove uma certa inquietação nos artistas.
NL – Essa inquietação excessiva tem também um lado que acho preocupante. Quando o artista fica o tempo todo procurando saídas para o seu trabalho é porque alguma coisa deve estar errada no sistema de arte. Por que a minha geração não procura saídas e a geração de hoje está toda entalada procurando saídas? Que saídas são essas? Quando se procura uma saída é porque alguma coisa não está boa. Não no trabalho dos artistas, claro, mas no sistema. O artista não tem que procurar saídas. Eu não fico inquieto porque não estou encontrando saídas. Eu não me preocupo em encontrar saídas. Eu não sei o que é encontrar ou não encontrar saídas Meu primeiro trabalho sempre pode me trazer o meu trabalho mais novo. Na verdade, temo que a produção atual esteja se tornando muito uniforme e indiferenciada. E quanto mais a arte for assim, menor o papel que o curador-crítico terá para desempenhar. Talvez seja por isso que não se consegue escrever um texto sobre o sentido do trabalho de um jovem artista sem o auxílio de inúmeras imagens. Bem, mas talvez também seja porque vocês estejam ficando preguiçosos e tenham adquirido o hábito de achar que duas páginas de texto são suficientes para introduzir 60 páginas de fotos. Em todo caso, não seria um desafio muito maior tentar entender o trabalho do artista através apenas do texto? Isso é que interessa ao artista. Ter mais uma leitura do seu trabalho e não mais uma reprodução. Por que fugir dessa responsabilidade?
AF – O crescente número de publicações sobre artistas que têm sido feitas é um reflexo do fato de que nos anos 90 o meio artístico brasileiro se profissionalizou mais, as instituições cresceram, o mercado se estruturou mais. Você vê algum perigo nisso tudo para o jovem artista?
NL – Perigo não, mas acho que o artista hoje tem que ter uma atenção redobrada com o universo em que ele está entrando. Tem que trabalhar muito mais do que eu tive que trabalhar. A concorrência é muito maior. O trabalho do curador que tem que escolher artistas para uma bienal também é hoje muito maior do que era antes, ele tem muito mais opções do que teria a oito ou dez anos atrás.
AF – Mas o fato de ter cada vez mais instituições e mais exposições não implicaria também o risco de haver um rebaixamento da qualidade do que é exposto?
NL – Não, porque a arte virou uma hotelaria. E existem hotéis de 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas. Os hotéis de 5 estrelas (Documenta de Kassel, Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo) vão continuar expondo artistas 5 estrelas. Os de 4 estrelas (Bienal de Havana, a feira de arte de Chicago) vão expor os artistas de 4 estrelas. E assim por diante, até chegarmos às pensões.
AF – E qual a importância que você vê nas feiras de arte hoje em dia?
NL – Para mim é um pouco assustador porque sempre quis manter uma visão não comercial da arte. O tempo todo me coloquei contra a arte comercial. E hoje não vejo como escapar disso.
AMN – Nelson, uma vez você disse que admirava [o cineasta espanhol Pedro] Almodóvar, porque ele estava sempre sobre o fio da navalha, assumindo riscos nos seus filmes. Gostaria que você falasse dessa sua predileção.
NL – Almodóvar não precisa mais procurar saídas, ele sabe onde existe a tensão própria dos limites e está sempre buscando a proximidade dela, o que eu acho extraordinário.
AMN – Você acha que criar é estar nesse limite?
NL – Acho. Quanto mais o artista se situa nesse limite, no lugar onde se apresenta tensão e risco, melhor o trabalho. Eu gostaria de ser um Almodóvar, meu ídolo.
AMN – Eu queria voltar um pouco na sua história e perguntar sobre a sua relação com outro espanhol, o artista Juan Ponç, com quem você teve aulas de pintura nos anos 50.
NL – Juan Ponç foi meu amigo e depois ficou meu inimigo, porque eu não queria mais pintar. Num certo momento, decidi que ia trabalhar num processo de relação direta com materiais industrializados, embora sem largar a pintura de todo. Eu jogava, por exemplo, tinta automotiva no papel e depois tocava fogo. A tinta ficava queimando na superfície do papel. Quando eu via que era a hora certa, um pouco antes do próprio papel começar a queimar, eu apagava e ficavam lá apenas algumas crateras feitas pelo fogo. Depois passava tinta a óleo por cima daquele material queimado para dar uma certa uniformidade e transparência, criando verdadeiras nebulosas. Sobre muitos desses trabalhos eu desenhava hieróglifos, como se estivesse desenhando em cima de rochas na pré-história ou fazia colagens usando imagens já existentes. Foi assim que eu comecei a sair da pintura de tela.
MA – Foi uma insatisfação com a pintura que o levou a fazer esses experimentos?
NL – Não foi nem insatisfação, porque não sentia nenhum tipo de motivação. O processo de pintura era muito lento para o meu tipo de temperamento. A pintura é muito lenta. Repare como os meus processos de trabalho são sempre rápidos. Isso eu acho uma coisa importante. Meus riscos são sempre rápidos, os projetos são sempre rápidos. Claro, depois eu mando executar e pode durar dois meses para fazer o trabalho, mas aí não sou mais eu. Tenho a impressão de que o que eu não aguentava, naquele momento, era a lentidão da pintura. Eu queria ver o resultado da pesquisa, a coisa feita de modo rápido. Tanto que eu passei a fazer veladuras, uma coisa demoradíssima na pintura a óleo, através da manipulação industrial. Por que é que eu iria ficar no quadro criando a matéria com tinta se eu crio ela em dois minutos com fogo? Por que é que eu vou perder tempo pintando se eu vejo pintura nas porteiras das construções e posso me apropriar delas?
AF – E em relação a Uma Linha Dura… Não Dura, que foi uma exposição [realizada na Galeria Luisa Strina, São Paulo, em 1978] em que você ficou alterando os trabalhos expostos ao longo de todo o período que durou a mostra?
NL – Ali também tem rapidez, apesar de ser desenho. O que é que eu fiz? Fiz uma exposição chamada Uma Linha Dura… Não Dura. Pus os trabalhos lá, que eram todos feitos de desenhos de linhas feitos sobre as linhas rígidas que já vêm impressas em cadernos. Aproveitei essas linhas “duras” e desenhei várias outras linhas em cima delas. A linha do [Georges] Braque, a linha do [Paul] Klee, a linha do Nelson, a linha do Hitler, a linha nacionalista verde e amarela. Dei umas cutucadas na situação política, embora o trabalho não fosse relacionado à ditadura militar. Houve a inauguração da mostra, olhei os trabalhos, e achei que tava tudo muito chato. Resolvi então tirar um trabalho por dia da galeria e desenhar sobre ele, trazendo ele de volta no dia seguinte. No final, tinha uma outra exposição pronta, que foi reinaugurada com o título Uma Linha Não Dura… Dura. Quase ninguém veio, ninguém entendeu e ficou por isso mesmo. Os trabalhos que ficaram são, obviamente, os das linhas “não duras”, porque eu interferi na linha dura.
MA – Em 1998, um trabalho seu [Trabalhos Feitos em Cadeira de Balanço Assistindo Televisão] foi alvo de um acirrado debate público envolvendo pornografia, moralidade e direito de expressão. Qual a sua apreciação hoje daquele episódio? Havia já na feitura daqueles trabalhos a intenção de provocar ou forçar a tomada de posições dos envolvidos? De alguma forma você estava querendo criar um novo happening – não mais da crítica, como no episódio de O Porco –, mas da instituição onde a obra estava exposta [Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro], forçando-a a tomar uma posição diante dos limites da arte?
NL – Essa é uma pergunta que eu acho que deveria ser respondida também por Agnaldo [Farias], que era o curador da exposição da qual o trabalho foi retirado e apreendido.
AF – Não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu e acho que foi muito circunstancial, em função da atuação de um Juiz de menores do Rio de Janeiro que busca sempre atrair a atenção da imprensa e de tomar atitudes as mais intempestivas. Algumas dessas atitudes têm fundamento, claro, mas outras, como no caso da apreensão do trabalho de Nelson, são somente as expressões de um moralismo próprio de quem se coloca como um cruzado em prol da moralidade da tradicional família carioca, que também existe.
NL – Se o curador não imaginava, eu também não podia imaginar que fosse ocorrer algo. E foi curioso que, junto a essa proibição, tenha se voltado também a discutir aqui a censura que o trabalho do [fotógrafo americano Robert] Mapplethorpe havia sofrido nos Estado Unidos, anos antes. Posteriormente, também se relacionou esse caso com a polêmica envolvendo uma pintura da coleção Charles Saatchi exibido no museu do Brooklin, em Nova Iorque, em que um artista [Chris Ofili] colocava fezes de elefante numa pintura da Virgem Maria que ele havia feito. Nós achamos que vivemos num mundo em que nós podemos dizer o que queremos. O que não é verdade.
AF – Nós falamos de vários trabalhos seus que provocaram reações adversas do público, da crítica ou da justiça. Mas há um caso também de rejeição muito interessante porque veio de onde não se espera que venham essas reações, que é o espaço da galeria. Trata-se da exposição Pague para Ver, de 1980, que estava programada para acontecer na galeria Múltipla de Arte, em São Paulo. Você escreveu um texto para ser impresso no convite desnudando o processo e a lógica do mercado, com os quais as galerias estão inevitavelmente comprometidas, e a marchande se negou a publicar aquilo, cancelando a exposição. Você imaginava que fosse causar essa reação da galeria?
NL – Nunca. Vocês acreditam que existem pessoas que são predestinadas a serem presas e outras que não são? Tem pessoas que carregam um carma, com quem acontece de tudo. Uma vez, há mais de 30 anos, uma instalação minha que estava sendo transportada de São Paulo para Belo Horizonte foi apreendida numa barreira da polícia na estrada pelo fato de não estar acompanhada de uma nota fiscal. Quantas cargas irregulares passaram por aquela barreira e não foram apreendidas? A minha foi apreendida. No episódio das Bandeiras na Praça, os fiscais da prefeitura tinham que passar por aquela rua no exato momento em que elas estavam expostas? A mulher que viu e denunciou o meu trabalho [Trabalhos Feitos em Cadeira de Balanço Assistindo Televisão] no MAM do Rio estava entrando naquele museu pela primeira vez em sua vida. Ela veio ver a mostra de Camille Claudel, que também estava sendo mostrada no MAM naquela época, e viu o meu trabalho. Se não tivesse Camille Claudel no museu, ela nunca teria visto a exposição com os meus desenhos sobre as fotos de Anne Geddes. No caso da galeria, acho que se outra pessoa tivesse feito a mesma provocação certamente não teria acontecido nada.
AF – Mas você faz trabalhos que, embora talvez você não perceba, são de fatos provocativos. Você expôs numa galeria já denunciando, no convite, a lógica do sistema que confere valor ao trabalho.
NL – Mas não é motivo para a galeria cancelar a exposição ou mandar tirar o texto por sentir-se ofendida. O texto é ambíguo, podia inclusive ser bom para a galeria. Não era como no caso da Rex, que era uma galeria que queria desmantelar o mercado.
AF – Qual era exatamente o propósito da Rex Gallery?
NL – O propósito da Rex era ter um espaço próprio que não dependesse da crítica ou do mercado. O artista teria o seu próprio espaço. Era uma cooperativa. Sobreviveríamos com o resultado que a Rex eventualmente desse. Não pagávamos aluguel, já que o espaço era do Geraldo de Barros, que também assumia as despesas com secretária, telefone, etc. e nós tínhamos o espaço para mostrar o nosso trabalho. Mas depois de um ano terminou o oba-oba. E qual a melhor maneira de fechar a porta? Dando todos os meus trabalhos. Depois que as pessoas levassem meus trabalhos, estava combinado que fecharíamos a galeria, tiraríamos a placa da frente do prédio e entregaríamos o espaço de volta aos seus donos. Seria o fim da Rex. Não tem uma lógica perfeita nisso tudo? O que decorreu disso é que não estava na nossa lógica. Não podíamos saber que iria acontecer toda aquela destruição em trinta segundos.
AMN – Acho que você está tocando numa coisa que se refere ao imprevisto em torno da reação talvez exagerada por parte do público ou da galeria diante do trabalho. Mas eu gostaria saber se ocorre também o inverso, em que o imprevisto se relaciona justamente ao fato dos trabalhos não provocarem as reações de surpresa que você esperaria que elas causassem.
NL – Posso falar de trabalhos que tinham tudo para explodir alguma coisa e que não deram em nada. Um exemplo: Rebelião dos Animais, exposição que fiz no MASP em 1974 e, antes disso, em Washington, no Instituto Cultural Brasileiro-Americano, em plena época da ditadura. Títulos dos trabalhos: Torturados, Acorrentados, Corpos Mutilados, Desaparecidos, Executados. Expostos com esses títulos, com catálogo do MASP e matéria no jornal. Não aconteceu nada. Por que? Ou ninguém visitava o MASP ou, por algum motivo, passou completamente despercebido pelo Alto Comando Militar. Eu acho esse trabalho muito forte. Também os trabalhos em que eu mexo com a religião, judaica ou não judaica, também poderiam ter desencadeado algo, mas nunca aconteceu absolutamente nada. Aí vem o trabalho em cima das fotos de Anne Geddes, que teria o mesmo valor provocativo, e desencadeia uma polêmica que dura meses. Não há como prever isso.
MA – Ao menos desde o trabalho Adoração (altar para Roberto Carlos), que é de 1966, vez por outra a religião aparece em sua obra. Em muitos de seus trabalhos recentes há muitas referências a ícones, a situações e a procedimentos religiosos. Eu queria entender melhor a sua relação com a religião.
NL – Na maior parte das vezes é um interesse puramente visual. Vocês estão todos esquecendo que muitas vezes a visualidade é o que mais importa, e não o conteúdo religioso. No trabalho Adoração há várias imagens de santos com uns furinhos que eu já achei prontas e que me interessaram pelo efeito visual que criavam. Se eu tivesse achado um material semelhante com imagens de pin ups, poderia ter usado elas e não os santos. O que me interessou ali foi a visualidade das imagens furadas com as luzes por trás e com o néon na frente. Eu não fiz esse trabalho por causa da religião. Eu fiz pela visualidade que eu encontrei nos objetos que fui juntando. Vocês precisam perceber o interesse que o artista tem na visualidade sem necessariamente estar pensando no conteúdo simbólico do material usado. Eu não tenho nada com religião. Não conheço a Bíblia, nunca li. Não conheço sequer a minha religião [Judaísmo]. Não frequento nada. Mas existe uma visualidade nas religiões que muitas vezes me agrada. Eu tenho trabalhos que se utilizam de imagens religiosas onde a atração visual é o que mais funciona. E é isso o que me interessa. Não são frutos de uma vivência religiosa.
AF – Em relação a esse interesse pela visualidade, haveria aí uma influência de sua mãe [Felicia Leirner], como artista que era? E também de seu próprio pai [Isai Leirner], que, numa tentativa de agradá-la, se voltou ele próprio para o campo das artes?
NL – Honestamente, não sei. Lembro apenas do movimento intenso de gente ligada à arte que havia na minha casa. Percebia todo o movimento. Uma coisa que eu sei é que só sou artista porque meus pais me forçaram a ser artista. Todo mundo tem pais que não querem que o filho seja artista. Os meus me forçaram a ser artista.
AF – Mas o seu pai mandou você estudar engenharia têxtil nos Estados Unidos.
NL – Até os 21 anos. Quando voltei dos estudos em engenharia têxtil eu não sabia nem o que era arte. Enquanto estive nos EUA, nunca fui num museu. Até os 21 anos eu não havia entrado num museu. Meu barato era outro, era esporte. Eu assisti a todas as lutas, a todos os jogos de futebol, a todas as partidas de tênis ou de beisebol que pude assistir. Se quiser saber regra de beisebol ou de futebol americano, eu conheço bem. Onde tinha barulho de bolinha eu estava lá. Depois dos 21 anos, quando eu voltei pro Brasil e fui morar na casa dos meus pais, aí eu comecei a me envolver com arte. Meu pai já estava envolvido [como diretor] na Bienal de São Paulo e eu ficava vendo um monte de gente entrando e saindo de casa. Mário Pedrosa, Sérgio Milliet, vários estrangeiros. Porque a Bienal era uma grande negociação e meu pai, como polonês, negociava pela cortina de ferro todinha. Os prêmios eram trocas. Meu pai conseguia unificar os votos da cortina de ferro, fazer trocas: a cortina de ferro ganhava o prêmio de melhor desenhista, os Estados Unidos o da melhor gravura. E eu testemunhava todas as negociações. Via o poder que cada um detinha. Com a ajuda de meus pais, foi muito simples ser artista, porque eles me abriram as portas pra tudo. Nos três primeiros salões paulistas em que me inscrevi [1958, 1959, 1960] fui não somente aceito, mas também premiado.
AF – Mas o seu trabalho não tinha qualidade? Você acha que foi premiado apenas por causa dos seus pais?
NL – Lógico. Eu fui empurrado pra dentro do circuito. Eu fiz a minha primeira individual na galeria São Luiz, que na época [1961] era a melhor galeria de São Paulo, sem que a galerista sequer tivesse visto antes o meu trabalho. E com um texto escrito pelo falecido crítico Ryszard Stanislawski, que também sequer viu o meu trabalho.
AF – E como foi a sua aproximação com o MASP?
NL – O MASP era o museu de São Paulo. Aproximei-me do [Piero Maria] Bardi já na época da Rex Gallery, quando ele, que era amigo do Wesley, nos apoiou muito. Ele estava sempre junto de nós, sempre nos chamava para participar das exposições que organizava no Brasil ou no exterior. Quando saiu o livro com a coleção do MASP, estávamos todos lá. Ele tinha a fidelidade de um animal.
AF – Que outros críticos tiveram uma relação mais próxima de vocês nessa época?
NL – Havia o Mário Schenberg, que morava em São Paulo. Íamos sempre à casa dele bater papo. Ele era uma pessoa muito agradável, bonachão. Já o contato com o Mário Pedrosa era mais distante. Ele estava fechado com um grupo de artistas do Rio, especialmente com Lygia Clark e o Hélio Oiticica, e frequentava São Paulo principalmente em função da Bienal, na época em ele foi o curador. O meu contato mais próximo com o Mário Pedrosa foi na época da ditadura, quando ele e o Mário Schenberg estavam sendo procurados pelo DOPS e passavam cada semana na casa de uma pessoa diferente, fazendo rodízio. Foi na semana em que passaram na minha casa que tive o contato mais próximo com eles. Mas eu era um artista ainda relativamente jovem e eles tinham já uma bagagem teórica que eu não acompanhava. O outro contato com o Mário Pedrosa foi através do caso do Porco, quando ele publica as razões pelas quais aceitou o trabalho no Salão. Isso foi muito legal, porque ele se colocou de uma maneira muito profissional na questão. Havia ainda o Geraldo Ferraz, que fazia parte da crítica conservadora e metia o pau no que fazíamos. A Aracy Amaral, que fazia parte da turma, ainda não era crítica. Era Araca, nossa amiga. A crítica Aracy veio depois. Também tinha o Frederico Morais, que foi um grande apoio no Rio de Janeiro. Foi ele quem me chamou para a Bienal de Tóquio, o que foi uma surpresa para mim, e que depois me convidou para fazer a exposição Playground no MAM do Rio.
AMN – Já que você está falando muito do Rio e de São Paulo, queria que você falasse de sua decisão de vir morar no Rio de Janeiro, a partir de 1997. Foi como um jogador de futebol que decide trocar de clube?
NL – Com a diferença de que eu não recebi dinheiro nenhum pelo passe. Ainda não sei bem porquê, mas depois da mudança para o Rio eu comecei a trabalhar de novo com muito mais intensidade. Ter saído da FAAP certamente me deu um grande alívio, porque eu dava 30 horas de aula por semana. E quem dá 30 horas de aula por semana e acompanha os seus alunos como eu sempre fiz não tem muito tempo para se dedicar ao seu próprio trabalho artístico. Mas, além disso, encontrei uma parceira no casamento [a artista Liliana Ribeiro da Silva Leirner], uma companheira que se tornou minha cúmplice na arte, e isso ajuda muito. Levou um ano para ela engolir o meu trabalho. Mas depois desse período ela foi percebendo que eu e o meu trabalho não estávamos separados e foi entendendo o meu trabalho através de mim. A partir daí ela passou a me ajudar muito, tanto que até hoje eu mantenho um diálogo constante com ela sobre o que faço e respeito muito a visão que ela tem do meu trabalho. Muitas vezes ela enxerga coisas que eu não enxergo.
MA – Há uma questão de fundo sobre essa relação entre São Paulo e Rio de Janeiro que me intriga. Hoje está praticamente consagrada na ainda pequena historiografia da arte brasileira a ideia de uma cisão entre o concretismo paulista e o neoconcretismo carioca. Por um lado, essa ideia parece desconsiderar as obras de transição, as hesitações, as influências recíprocas que podem ter havido entre os dois grupos. Por outro lado, recalca outros desenvolvimentos relevantes em gestação no período, tais como a Nova Figuração Brasileira e tendências que flertavam com a herança dadaísta. Essa situação é ainda mais intrigante quando sabemos que existiam canais de intercâmbio de ideias e de partilha de projetos entre os artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como você vê essa espécie de polaridade entre Rio de São Paulo que hoje está consagrada na maior parte das análises sobre a produção contemporânea brasileira?
NL – Acho que o Rio produziu os maiores artistas brasileiros desde os anos 60. Basta citar Lygia Pape, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Cildo Meireles, Tunga, Antonio Dias. No entanto, todos ainda precisam de São Paulo para dar visibilidade ao trabalho e para vender. Acho também que a ideia de que há uma cisão entre Rio e São Paulo é uma ideia recente. Ela começou a ficar muito clara somente a partir da chamada Geração 80, que ficou marcada como uma geração quase exclusivamente carioca, embora existisse uma produção artística em São Paulo tão forte quanto a do Rio de Janeiro naquela época.
AF – Você ficou assustado quando a geração 80 criou um mercado, ocupou os espaços?
NL – Eu nunca fico assustado com essas coisas. Se as gerações mais jovens não decolassem, eu é que estaria perdido. Se a Geração 80 não decolasse, ela afundaria e todos atrás afundariam juntos. Além disso, nos anos 80 eu estava inteiramente ligado ao ensino, produzindo pouco, embora sempre produzindo. Produzi a série Flores… Cor carmim, que levou um ano para ser concluída. Produzi a série Pague para Ver, fiz o Projeto Aula. Não foram anos de trabalhos virtuosos, estava muito dedicado ao trabalho com os alunos. É curioso, mas tenho a sensação de que a minha vida na arte está dividida em três partes. Um terço dela eu passei me perguntando se eu era artista ou não. O segundo terço, quando já sabia que era artista, passei me perguntando se era artista profissional ou não. É só a partir do momento em que eu começo a trabalhar no Rio que passo a ter certeza que sou um artista profissional.
MA – E você se lembra da época em que você percebeu que era realmente um artista?
NL – Foi no fim dos anos 60 ou começo dos 70. Mas não um artista profissional, aquele que vive da arte, que faz da arte a sua vida. Eu fui procurar a faculdade, fui procurar o design. Sempre tentei escapar da arte como um espaço de atuação profissional. Mas terminei me desligando da indústria, da faculdade, do design, vindo para o Rio e assumindo a arte profissionalmente. Hoje eu me sinto um profissional. É isso a realização final do artista? Não sei. Talvez tenha uma quarta etapa que ainda virá e que eu não sei qual é ainda.
MA – Fico imaginando se o fato de você ter se tornado um artista profissional não estaria também imbuído de uma certa ironia própria aos seus trabalhos. Por muitos anos, a sua obra voltou-se para a crítica dos mecanismos e das esferas de consagração artística. Mas recentemente é a sua própria obra que parece ter sido reconhecida e consagrada nessas esferas. Em poucos anos você foi laureado com o Prêmio Johnnie Walker de Artes Plásticas [1998], representou o Brasil na Bienal de Veneza [1999] e teve Sala Especial na Bienal de São Paulo [2002]. Além disso, tem ingressado em diversas coleções institucionais e privadas, tanto no Brasil como no exterior. Essa situação afeta a sua obra de alguma forma? Qual o seu sentimento em relação a esse reconhecimento e à consequente absorção do seu trabalho pelo circuito artístico?
NL – Quando sugeri o título dessa entrevista, estava fazendo uma referência evidente ao título da famosa entrevista que Duchamp concedeu a Pierre Cabanne nos anos 60, que era Marcel Duchamp: O Engenheiro do Tempo Perdido. Duchamp estava propondo uma nova dimensão do universo, aonde o tempo metafísico tomava a forma do real; eu sou apenas O Engenheiro que Perdeu seu Tempo, ou aquele “que ser ele amanhã”, parafraseando a famosa propaganda de Vodka. Na verdade, eu acho que tudo para mim aconteceu tardiamente. Eu sempre fugi à regra. E penso muito sobre qual é o erro ou onde estaria o erro nisso. Eu deveria ter sido chamado para a Bienal de Veneza há 20 anos. Deveria ter tido sala especial na Bienal de São Paulo há 20 anos, ter sido premiado há 15 anos. A minha primeira publicação é de 1994 e, ainda assim, foi uma publicação fruto do esforço e da dedicação de uma ou duas pessoas. O livro saiu suado, tardio, caindo aos pedaços, depois de muitos alunos meus já terem livros publicados. A consagração dos artistas hoje começa a vir numa faixa de idade dos vinte e poucos anos. Então, qual é o erro? Algum erro tem nisso. Eu não sei realmente qual é o erro. Eu sempre mostro que há um erro, mas não sei qual é. Eu respondo com uma pergunta: qual é o erro?